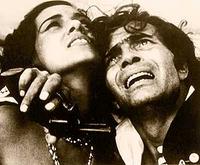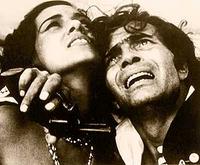
Era muito caro a Glauber Rocha, ícone maior do Cinema Novo, a quebra dos paradigmas. Glauber era um inconformado e um revolucionário incurável que via na estética do cinema então vigente uma plataforma para a dominação cultural, para o controle dos povos do terceiro mundo e para a perpetuação de uma economia capitalista, burguesa. Talvez com exceção apenas de seu primeiro filme, O Pátio, curta metragem de 1959, Glauber sempre fez política através das imagens em movimento.
Radical em princípios ideológicos/éticos e na forma de captar imagens, Glauber Rocha, filme a filme, vai galgando experimentações e amadurecendo seu intuito frente ao fazer cinema. Embora seja em
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) que o cineasta alcança seu maior reconhecimento, é em
Idade da Terra (1980), seu derradeiro filme, onde reside seu último grau de aperfeiçoamento. Esse julgamento, é bom deixar claro, leva em consideração o que o próprio Glauber esperava de seu cinema, um fazer anárquico não preso a preceitos narrativos.
E
Idade da Terra é uma experimentação não narrativa, assim como ele queria seu cinema revolucionário, com a cara e a poeira do terceiro mundo.
Idade da Terra é prosa poética, é um acúmulo de discursos e imagens que juntos tendem a traçar uma radiografia imprecisa dos arroubos socialistas no Brasil pós-anistia.
Idade da Terra é uma proposta onírica, neo-surrealista (neo-sul-realista), utilizando palavras do próprio Glauber para conceituar seu cinema, ou seu intuito de cinema.
Em seu último filme, Glauber chega ao ápice de uma proposta que já vinha desenvolvendo desde 1971, quando escreve o manifesto
Estética do Sonho. Manifesto que surge em contraposição ao anterior
Estética da Fome, de 1965. O primeiro fala da fome como caminho para a revolução, porque a fome gera a violência necessária para a libertação do colonizado, para a libertação do sentimento de colonizado; já o segundo critica essa visão, pois seria o povo “o mito da burguesia”, um retrato pintado pelo dominador, já que a idéia que o povo teria de si próprio seria uma idéia projetada pela burguesia e aceita pelo proletariado. Em
Estética do Sonho, Glauber vai afirmar que a verdadeira libertação está na “desrazão”, porque é só na quebra dos paradigmas do próprio pensar que se pode ser independente, porque é apenas no sonho que somos livres. Fome e sonho, política e poesia. Esses serão os nortes em que Glauber irá basear toda a sua obra. Em um primeiro momento achando que a política é o discurso; em um segundo momento achando que a poesia é o que deve sê-lo. No entanto, os dois sempre imbuídos e difusos, nunca totalmente separados.
A última obra de Glauber Rocha é a radicalização do que ele propunha no manifesto de 1971, a ponto de propor que os rolos que compõe o filme a ser projetado não tivessem uma ordem específica. Ficaria a cargo do acaso e do projecionista essa escolha, embora esse querer não tenha sido aceito pela Embrafilme. Talvez por isso,
Idade da Terra não tenha créditos, nem iniciais nem finais. Não há sequer o nome do filme impresso sobre a película.
Inicia-se com um plano extremamente longo, em que vê-se um nascer do sol em Brasília. O filme espera todo esse instante do alvorecer, obrigando o espectador a se dar conta de cada detalhe de algo que em seu cotidiano é tão fugaz. É a primeira dica do filme que virá, que já no seu primeiro plano nos diz que sua “narrativa” não é algo usual; que fará com que o público veja um outro cinema, diferente do vigente, diferente da linguagem que é até hoje largamente aceita e comercializada.
A partir daí
Idade da Terra irá trabalhar sobre quatro focos, cada um deles tentando sintetizar e desconstruir personagens emblemáticos ao Brasil da época: o índio (Jece Valadão), o negro (Antônio Pitanga), o militar (Tarcísio Meira) e o guerrilheiro (Geraldo del Rey). Além deles, há as mulheres sempre presentes, que ouvem seus discursos ou que clamam pela morte de outro importante personagem do filme, o imperialista Brahms (Maurício do Valle).
A impressão é que Glauber filma tudo à esmo, sem ensaio. A câmera tem a imprecisão comum às imagens de documentário, com seus zooms trêmulos e seu foco mal acabado. Constantemente ouvimos a voz de Glauber dando marcações para os atores ou pedindo para falarem mais alto, sempre pedindo: “mais alto!”. No onírico de
Idade da Terra os personagens gritam seus desejos e seus discursos. Fazendo um paralelo, é interessante notar que em
Deus e o Diabo na Terra do Sol, a maior parte do filme é sussurrada. Glauber também faz trechos discursados em
off, seja para falar do Brasil pobre, do terceiro mundo e suas contradições, seja para dar impressões sobre o filme que gostaria de ter feito quando soube da morte do cineasta/poeta Pasolini. Glauber diz que queria filmar sobre o Cristo, mas um cristo venerado no momento da ressurreição e não o do calvário, tão apregoado pelas igrejas. Porque Glauber queria tratar da revolução como libertação, como a boa nova para o povo com sua fome crônica.
O messianismo, sempre presente na obra do cineasta, também aparece em
Idade da Terra. Todos os quatro personagens, o negro, o militar, o índio e o guerrilheiro, estão no filme imbuídos de um discurso profético, às vezes redentor, às vezes apocalíptico. Há um momento em que o personagem de Antônio Pitanga, o mais místico deles, surge curando um cego, fazendo a multiplicação da comida e, numa ironia glauberiana, sanando a sede do povo com a multiplicação da pepsi-cola. É o mesmo personagem que irá aparecer completamente nu pedindo o amor de uma mulher, numa simbologia que o remete à reintegração da natureza.
A parte apocalíptica fica para o personagem de Tarcísio Meira que, às margens da Baía de Guanabara, fala de uma bomba atômica que irá destruir a todos; fala em outras palavras de algo que está para acontecer e se ressente com sua impotência. E xinga e xinga e xinga: “isso aqui é a cloaca do universo”, e a câmera corre a focar o lixo que se acumula à beira das pedras.
Idade da Terra seria atonal, se fosse uma sinfonia. São muitos os discursos que se interpõem além do o que trata da libertação e da revolução. Como quando a montagem assume no meio de seu discurso fílmico um acidente de trabalho e mostra o ator Maurício do Valle se lamentando de dor por causa de uma topada; como quando assume os olhares do povo que anda na rua e não está ciente do que está sendo filmado e volta seus olhos para a câmera (olhares que denunciam o falso da ficção e, por isso mesmo, falam sobre o real do documental); como quando se assumem repetições do que é dito (há muitas falas repetidas à exaustão); como quando Jece Valadão invade uma procissão para gritar seu texto no meio dos religiosos; como quando vê-se o personagem guerrilheiro sendo untado de sangue falso para a cena seguinte.
Assistir
Idade da Terra e tentar costurar com precisão a relação de todos esses fragmentos de falas,
offs, discursos e poesias é uma tarefa árdua. Melhor é apreciar com os olhos abertos para as imagens, mas como se fechados ao dormir. Tentar usar a “desrazão”, libertar-se das regras petrificados pelo cinema narrativo.
Idade da Terra é um dos filmes mais viscerais do cinema brasileiro e deve ser visto com a mesma visceralidade. É preciso comer as imagens.